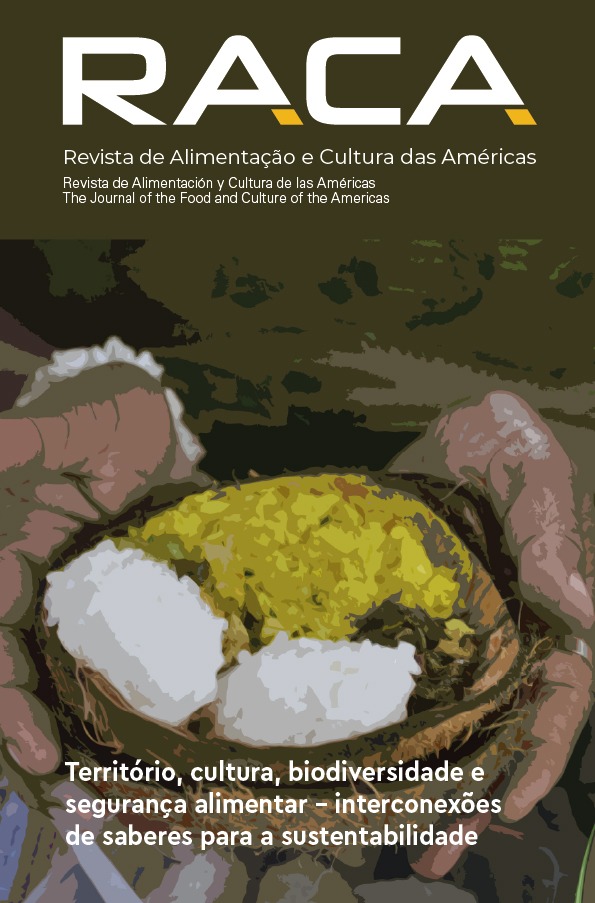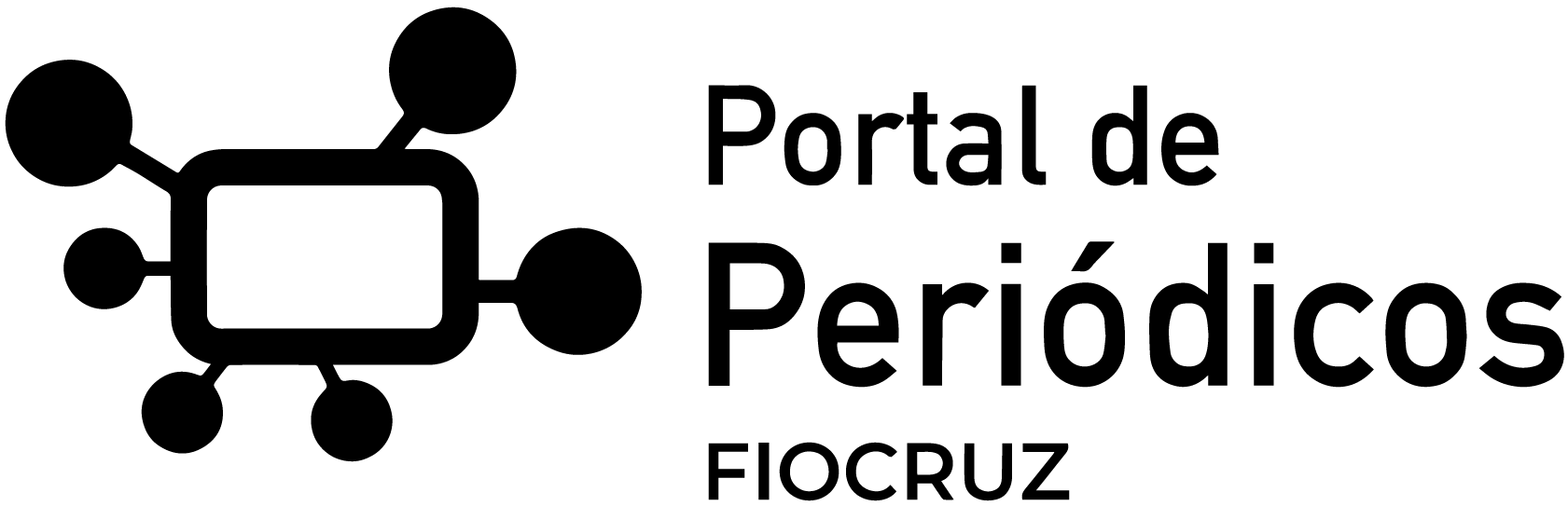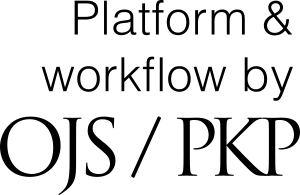Pinhão na alimentação tradicional dos kaingang do Paraná
DOI:
https://doi.org/10.35953/raca.v6i1.216Palavras-chave:
Pinhão, Kaingang, Paraná, Araucaria angustifólia, AlimentaçãoResumo
O objetivo deste artigo é analisar a relação dos Kaingang com a Araucaria angustifolia e o pinhão, considerando seus aspectos culturais, ecológicos e alimentares. A metodologia empregada baseia-se em uma revisão integrativa de estudos que abordam o povo Kaingang, seu território, práticas alimentares e rituais religiosos. A análise destaca a importância do pinhão como elemento central na alimentação tradicional e na construção da identidade cultural dos Kaingang, além de sua relação com a cosmovisão religiosa, evidenciada no ritual Kiki, que expressa a conexão com os mortos e a natureza. Os Kaingang, pertencentes ao grupo Jê meridional, mantêm um vínculo profundo com o ambiente natural, utilizando seus recursos de forma sustentável e integrando práticas de coleta e cultivo de plantas e animais. A pesquisa também examina os impactos da colonização, que resultaram na redução das terras indígenas e no confinamento dos Kaingang em 26 reservas. Apesar dessas adversidades, o povo Kaingang segue preservando suas tradições, incluindo a coleta do pinhão, que é essencial não apenas para a subsistência, mas também como expressão de sua identidade cultural. Os resultados indicam que a preservação do pinhão e da Araucaria angustifolia é fundamental para a continuidade das práticas culturais e para a segurança alimentar dos Kaingang. O estudo sugere a necessidade de políticas públicas que reconheçam e protejam os direitos territoriais e culturais desse povo, essenciais para sua sobrevivência e bem-estar.
Referências
Ayres, A. D., Bartolome, M. M., & Brando, F. R. (2023). Etnologia dos Kaingang e seus territórios no estado do Paraná. Revista Brasileira de Desenvolvimento Territorial Sustentável GUAJU, 9. https://doi.org/10.5380/guaju.v%vi%i.87377. DOI: https://doi.org/10.5380/guaju.v9i0.87377
Lappe, E., & Laroque, L. F. S. (2015, agosto). Indígenas e natureza: a reciprocidade entre os Kaingang e a natureza nas Terras Indígenas Por Fi Gâ, Jamã Tÿ Tãnh e Foxá. DMA, 34. http://www.revistas.ufpr.br/dma. DOI: https://doi.org/10.5380/dma.v34i0.37073
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2010). Censo demográfico 2010: características gerais dos indígenas – resultados do universo. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/95/cd_2010_indigenas_universo.pdf
Crestani, S. (2014). Memória alimentar Kaingang: aspectos na reserva indígena de Mangueirinha. Revista Semina, 11(1). https://seer.upf.br/index.php/ph/article/view/4377.
Branco, C. F., Perondi, M. A., & Ramos, J. D. D. (2022). Cosmopolíticas Kaingang no Kreie-bang-rê (Campos de Palmas/PR). Tellus, 22(48), 9–39. https://www.tellus.ucdb.br/tellus/article/view/818. DOI: https://doi.org/10.20435/tellus.v22i48.818
Becker, I. I. B. (1991). Alimentação dos índios Kaingáng do Rio Grande do Sul. Revista de Arqueologia da SAB, 6(1), 106–118. https://revista.sabnet.org/ojs/index.php/sab/article/view/85. DOI: https://doi.org/10.24885/sab.v6i1.85
Collaço, J. H. L. (2013). Gastronomia: a trajetória de uma construção recente. Habitus, 11(2), 203–222. https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/article/view/2865/1753.
Marques, L. M. (2022). “Se a gente tem terra para morar, a gente tem tudo”: reflexões sobre terra, território e territorialidade a partir da etnia Kaingang da Aldeia Gyró, Pelotas/RS [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pelotas]. https://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/9338?locale-attribute=es.
Roman, A. R., & Friedlander, M. R. (1998). Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem. Cogitare Enfermagem, 3(2), 109–112. https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/44358/26850.
Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, 8(1 Pt 1), 102–106. https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?format=pdf&lang=pt. DOI: https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134
Gaudêncio, J. S. (2022). O saber indígena Kaingang: historiografia, etnociência e educação científica [Dissertação de Mestrado, Universidade de Coimbra]. https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/100423.
Veiga, J. (2000). Cosmologia e práticas rituais Kaingang. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP. https://www.cpei.ifch.unicamp.br/pf-cpei/%20/VeigaJuracilda.PDF.
Povo Kaingang. (2012). Povo Kaingang. Editora Oikos. https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/KGD00131.pdf.
Roza, L. D., Bellé, T. R. L., Ubessi, L. D., Ribeiro, L. E., & Rios, K. R. (2011). A processualidade de preparações tradicionais indígenas à base de milho em cultura Kaingang. In XIX Seminário de Iniciação Científica (pp. 1–10). UNIJUÍ. https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/16747/15429.
Rosa, P. C. (2008). A noção de pessoa e a construção de corpos Kaingang na sociedade contemporânea. Espaço Ameríndio, 2(1), 15. https://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/3125. DOI: https://doi.org/10.22456/1982-6524.3125
Pinheiro, N. S. (1992). Os nômades: etnohistória Kaingang e seu contexto: São Paulo, 1850–1912 [Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista]. https://repositorio.unesp.br/bitstreams/ab3aee82-0e62-4d96-b29a-b36a8c0153ae/download.
Nimuendajú, C. (1993). Etnografia e indigenismo: sobre os Kaingang, os Ofaié-Xavante e os índios do Pará. Editora da UNICAMP. https://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Animuendaju-1993-%20etnografia/Nimuendaju_1993_EtnografiaEIndigenismo.pdf.
Queiroz, I. B., & Lino, J. T. (2021). O ritual do Kiki do povo Kaingang: cultura material de um ritual religioso indígena no Brasil meridional. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, 36, 46–56. https://www.revistas.usp.br/revmae/article/view/172880/174862. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2448-1750.revmae.2021.172880
Silva, L. A. (2011). A história Kaingáng através do ritual do Kiki. Revista Santa Catarina em História, 5(1), 11–23. https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/sceh/article/view/144/193.
Santos, A. J., Corso, N. M., Martins, G., & Bittencourt, E. (2002). Aspectos produtivos e comerciais do pinhão no estado do Paraná. Revista Floresta, 32(2). https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2281. DOI: https://doi.org/10.5380/rf.v32i2.2281
Zanette, F., Danner, M. A., Constantino, V., & Wendling, I. (2017). Particularidades e biologia reprodutiva de Araucaria angustifolia. In Embrapa (Cap. 1). https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1071142/particularidades-e-biologia-reprodutiva-de-araucaria-angustifolia.
Peres, J. A. (2018). Indígenas, não indígenas e pinhões: fartura e conflitos em Santa Catarina no século XIX. In E. Nodari (Org.), Fronteiras fluidas: florestas com araucárias na América Meridional (pp. 134–151). https://www.researchgate.net/profile/Eunice-Nodari/publication/343319101.
Silveira, H. M., & Fraga, N. C. (2015). Fogo de (no) chão: pinhão, quirera e chimarrão – a comida como base cultural da Região do Contestado. Revista Nep, 1(1), 303–327. https://www.researchgate.net/publication/304219261. DOI: https://doi.org/10.5380/nep.v1i1.43275
Godoy, R. C. B., Deliza, R., Negre, M. F. O., & Santos, G. G. (2018). Consumidor de pinhão: hábitos, atributos de importância e percepção. Pesquisa Florestal Brasileira, 38(1), 1–9. https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1655/1634. DOI: https://doi.org/10.4336/2018.pfb.38e201801655
Becker, I. I. B. (1976). O índio Kaingáng no Rio Grande do Sul. Pesquisas: Antropologia, 29, 1–329. https://www.anchietano.unisinos.br/publicacoes/antropologia/volumes/029.pdf.
26. Collaço, J. H. L., Menasche, R., & Roim, T. P. B. (2024). Trajetórias da Antropologia da Alimentação no Brasil. Revista de Alimentação e Cultura das Américas (RACA), 5(1), 4–24. https://doi.org/10.35953/raca.v5i1.193. DOI: https://doi.org/10.35953/raca.v5i1.193
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 CC Attribution 4.0

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.